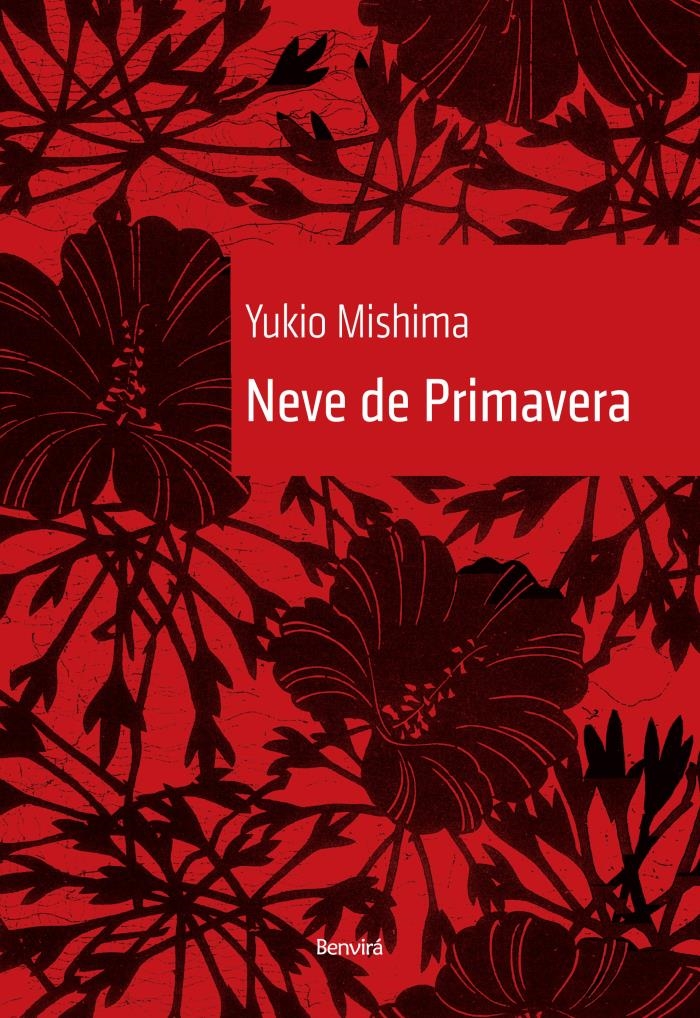Mais do que da histórica revolução, Memórias do Subdesenvolvimento trata da perplexidade. O clássico do cinema cubano que ganhei da amiga Nina Rodrigues bem pode ser mais que um presente pessoal pra mim, tornando-se, pra quem conseguir uma cópia*, uma dádiva pra organizar melhor nas ideias o que é este Brasil atual que parece estar terminando um processo sem que tenha iniciado outro. É precisamente deste vácuo que trata o filme, jogando suas fichas num dos momentos mais dramáticos da história do nosso ocidente conturbado.
O ano é 1961 e as primeiras imagens sugerem que você está diante de um legítimo Glauber Rocha. Normal: é a estética do espírito da época que desce seus lençóis sobre a arte em geral. Daqui a pouco, algo muda e o espectador já associa o filme a uma outra tendência do cinema daqueles tempos: quando o personagem central, que vai amalgamar toda as dúvidas, tanto pessoais quanto sociais e históricas, surge em cena, você pensa estar diante de Walmor Chagas no São Paulo S.A. de Luiz Sérgio Person. E não demora muito para as impressões do clássico paulista de Person dar lugar a algo como um daqueles deliciosos filmes de Domingos de Oliveira do mesmo período. Essas três tendências permanecem ao longo do filme, mas logo você vai perceber que, colando tudo e dando harmonia a um painel tão rico quanto aparentemente caótico, há aqui um cinema semidocumental um pouco neosurrealista com atraso - mas válido, porque o momento histórico é tão grave quanto aquele posterior à II Guerra que gerou o movimento italiano.
Memórias do Subdesenvolvimento embaralha peças de um mosaico das dúvidas, contradições, percalços no caminho de um país que teve a ousadia de realizar uma das revoluções mais improváveis da história ao mesmo tempo em que não sabe bem qual o rumo a seguir dali por diante, justo num instante - este é o ponto de partida do filme - em que levas de cubanos estão trocando a ilha de Fidel pela Miami rosa choque dos imperialistas. Nesta colagem, cabe uma variedade de elementos, que vão de de fotos a registros - ou reconstituição, não sabemos - de debates e conferências, pontuados por imagens dispersas do olhar popular nas ruas (a grande força do neorrealismo que o bom cinema nunca mais dispensou; inclusive o brasileiro que aqui e ali recorre a esse poderoso recurso).
No meio desse tiroteio algo bêbado de sensações e percepções jamais cimentadas por um raciocínio minimamente coerente, você é conduzido pelo protagonista-narrador em seus monólogos. Ele lança em falas superpostas à dança das imagens um conjunto de teses pessoais que foge tanto ao engajado quanto ao totalmente cético. Talvez por isso mesmo, seja capaz de sair-se com constatações como a de que uma das principais características do subdesenvolvimento - algo superior à revolução em si e que permanece indiferente à vitória dos rebelados - é a incapacidade de aprender com as experiências.
Certa inconstância psicológica não permite, ou bloqueia, o avanço, usemos logo a palavra certa, civilizatório - e reforço que o filme se passa no início da década de 60, antes de vitórias estatísticas importantes dos cubanos nas áreas de saúde e educação, assim como antes da outra crise causada pela saída de cena do apoio soviético. Pois bem, essa inconstância seria típica de um povo subdesenvolvido que, no limite, vive o tempo todo tão preocupado em se adaptar a uma nova situação crítica que não tem tempo ou interesse em aprender a pensar por si só, acumulando experiências - e no lugar disso recorre ao líder carismático. Isso lhe diz algo sobre o Brasil de hoje?
Neste desenho da perplexidade, o filme sem respostas segue misturando um certo existencialismo caribenho com o bricabraque das imagens reais da época, até desaguar na crise das crises: a questão dos mísseis soviéticos enviados a Cuba que quase resulta no estopim de uma III Guerra Mundial, o corolário da guerra fria. Tomás Gutiérrez Alea, o diretor do clássico que Nina trouxe pra mim direto de Cuba quando lá esteve num curso de cinema (talvez o mesmo que minha amiga Marcya Reis fez anos atrás), encerra o filme sem explicar o desfecho dessa crise dentro da crise. Já é o bastante expor essa espécie de "Cuba, Cidade Aberta" como metáfora da indefinição que mesmo uma revolução tão saudada - e tanto quanto demonizada - mundo afora pode provocar. É um grande cinema para um momento ímpar. Que bom que tenha sobrevivido e seja vendido até hoje nas ruas de Havana. Porque a perplexidade, nos anos 60 ou hoje, é um patrimônio daquela parte da humanidade que está sempre se interrogando - e recusará sempre a resposta cômoda, pronta e acabada. Justo o que estamos passando agora.
*Minha cópia está à disposição dos amigos interessados em ver Memórias do Subdesenvolvimento de maneira mais confortável no DVD de casa (deixe recado aqui ou no Facebook). Mas pesquisando no YT acabei encontrando o video acima, que traz mais do que o filme completo: tem comentários de Nelson Pereira dos Santos, Walter Salles e Eduardo Coutinho. Lá vou eu ver tudo de novo somente pra acompanhar o papo dos três.